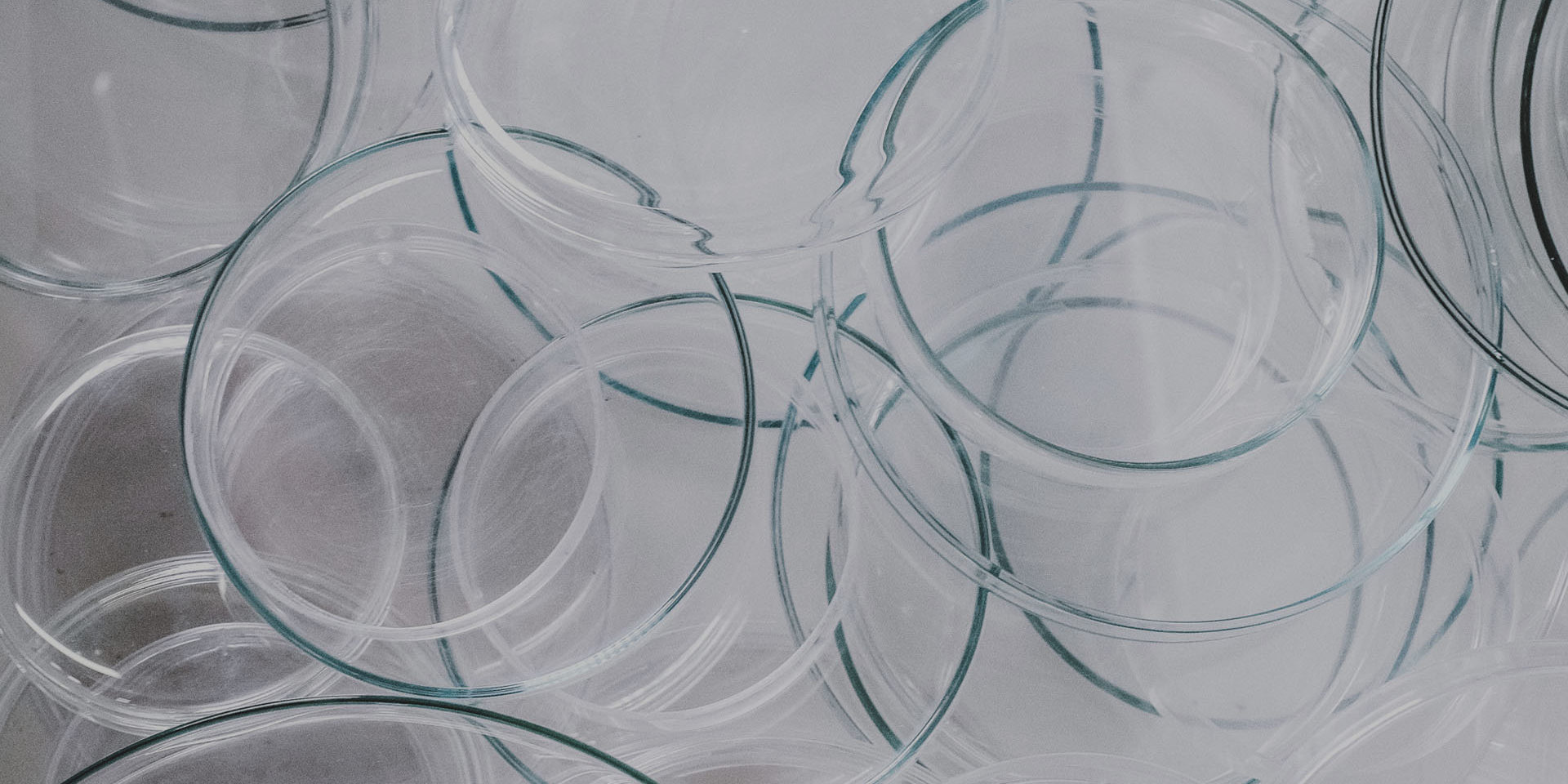Por Super Interessante em 14/04/2021
Texto: Bruno Vaiano | Ilustração: Gustavo Magalhães | Design: Natalia Sayuri Lara
A coisa mais limpa do mundo não está no mundo neste momento. Não neste mundo. Estamos falando de 43 cilindros ocos de alumínio e titânio carregados pelo jipinho não tripulado Perseverance – a missão da Nasa que pousou em 18 de fevereiro na cratera de Jezero, em Marte, para buscar indícios de vida extraterrestre.
‘A cada passo da montagem, os tubos eram limpos com jatos de ar filtrados, enxaguados em água deionizada [sem nenhum sal mineral] e mergulhados em acetona, álcool isopropílico e outros agentes de limpeza exóticos agitados por ondas ultrassônicas’, explica o engenheiro Ian Clark no site da Nasa. A tolerância máxima de compostos orgânicos por tubo foi de 0,00015 mg. Sheldon Cooper ficaria emocionado.
O motivo de tanto esmero é que esses tubos estão sendo usados pelo rover (neste exato momento) para abrigar fragmentos de rocha e solo que podem conter indícios de vida marciana passada ou presente. A Perseverance não podia decolar para o Planeta Vermelho com nenhum traço de contaminação – qualquer micróbio terráqueo que fosse de carona no tubo faria soar um alarme falso na hora de analisar a amostra.
Conforme a sonda de seis rodas percorre a superfície do planeta, seu arsenal de ferramentas coleta as amostras e as insere nesses cilindros, que têm o tamanho de microfones. Depois, o robô lacra os invólucros e os abandona no deserto marciano. Uma sequência de outras missões, programadas para ocorrer até o final da década, trará os tubos de material alienígena para análise aqui na Terra. Você pode entender a operação de retorno inédita no infográfico abaixo: é a primeira vez que algo fabricado por nós fará a viagem de volta.
Passagem só de volta
Até 2031 a Nasa e a ESA trarão amostras de rochas marcianas para a Terra, algo que jamais aconteceu. Entenda o passo a passo da operação bilionária.
1. O primeiro elo da cadeia é o fetch rover (‘veículo de busca’) – um pequeno jipe que coleta os tubos lacrados com amostras deixados para trás pela Perseverance.
2. O rover vai retornar para o lander (‘aterrissador’) – a nave maior, que centraliza a operação. O lander recolhe as amostras e as insere num pequeno foguete.
3. O foguete decola para a órbita de Marte. Tanto o rover quanto o lander ficam para trás. A operação, que começa em 2026, custará, ao todo, US$ 7 bilhões.
4. Em órbita, o foguete libera as amostras para um satélite da Agência Espacial Europeia (ESA), que agarra o pacote e o traz de volta para a Terra (chegada prevista: 2031).
A viagem de ida, considerando as dificuldades envolvidas, já se tornou corriqueira: desde 1960, 49 missões já foram enviadas para passar de raspão em Marte, orbitá-lo ou arriscar um pouso. 36 delas falharam em alguma etapa. Nenhuma coletou qualquer evidência de que haja (ou de que tenha havido) vida por lá. Se nosso vizinho já abrigou seres orgânicos – provavelmente há uns 4 bilhões de anos, quando havia água líquida no planeta -, é quase certo que eles sejam microscópicos e unicelulares, como as bactérias terráqueas. E bactérias têm o infortúnio de não deixar fósseis.
Ou pelo menos era o que se pensava até 1956, data da publicação de um artigo científico seminal sobre a formação geológica de Gunflint, às margens do Lago Superior, no sul do Canadá. Essas rochas de 1,88 bilhão de anos – três vezes mais antigas que as primeiras formas de vida animais – forneceram as primeiras evidências inequívocas de que a Terra já era um antro pululante de micróbios muito antes da evolução de formas de vida mais complexas.
O problema é decifrar essas evidências. Os rastros deixados por bactérias não têm nada a ver com os ossos de dinossauro mineralizados que vemos em museus. Primeiro porque sua morfologia é bem simples – tubinhos, esferas, filamentos e outras formas que poderiam facilmente ter origem inorgânica.
Para diferenciar resquícios abióticos (que não têm a ver com vida) de fósseis autênticos, é preciso verificar se a poeirinha em questão tem uma composição química anômala em relação à rocha que a circunda. Anômala de jeitos bem específicos. Não basta saber que uma bactéria produza uma determinada molécula ou elemento e então buscá-los – o que por si só já é um desafio: como deduzir o metabolismo de um serzinho que viveu há tanto tempo?
Também é preciso estudar por quais transformações esses restos teriam passado após bilhões de anos submetidos a mudanças de temperatura e pressão, à erosão etc. Muitas vezes, a análise do contexto geológico diz que o sinal de vida é um alarme falso.
Hoje, o campo da nanopaleontologia mobiliza centenas de pesquisadores de vários países e máquinas bilionárias – capazes de decifrar as moléculas presentes em amostras minúsculas e fazer imagens dos fósseis com resolução altíssima. É o caso do acelerador de partículas Sirius, localizado em Campinas (SP). Saber se um buraquinho em uma rocha é ou não uma bactéria ancestral será essencial quando as amostras marcianas chegarem aqui, no final da década. A seguir, vamos conhecer o trabalho de cientistas brasileiros que estão na vanguarda dessas pesquisas.
Os extremófilos
Todo organismo vivo lida com o problema básico de gerar energia. Nós e os demais animais fazemos isso queimando açúcar com auxílio do oxigênio. Mas precisamos obter esse carboidrato em uma fonte externa a nós, o que nos torna heterotróficos no jargão biológico. As plantas dão um passo além: fabricam seu carboidrato via fotossíntese, que usa a luz solar como fonte de energia e dióxido de carbono como matéria-prima. Elas fazem a própria comida do zero, o que as torna autotróficas.
Em ambientes extremos, a seleção natural gera soluções diferentes. Há micróbios autotróficos que não usam a luz solar como fonte de energia, e sim reações químicas que acontecem em seu habitat, ou o calor de águas aquecidas por atividade vulcânica. Esses Indiana Jones microscópicos podem ter um metabolismo baseado, por exemplo, na oxidação de metais (em vez de compostos orgânicos feitos de átomos levinhos, como o carbono). Com frequência, são resistentes ao calor, à radiação ou a outras intempéries. Ganham o nome de extremófilos (ao pé da letra, ‘amigo dos extremos’).
O Rio Tinto, na Espanha, tem cor de vinho e acidez de limão. Suas águas alcançam pH 2 em certos trechos, uma cifra comparável à do suco gástrico humano. Isso torna suas águas e margens um laboratório a céu aberto para o estudo de extremófilos. Mais especificamente, extremófilos parecidos com os que poderiam existir em Marte, já que o planeta é vermelho pelo mesmo motivo que o rio é tinto: a presença de uma dose cavalar de ferro.
A bióloga brasileira Lara Maldanis faz pós-doutorado na Universidade de Grenoble Alpes, no leste da França. Um de seus temas de pesquisa são justamente os extremófilos espanhóis. Ou melhor: os fósseis deixados pelos antepassados desses microrganismos. Eles não são muito antigos; têm ‘só’ 2 milhões de anos, o que é pouquíssimo na escala geológica. (Nessa época, ancestrais bem próximos do ser humano, os Homo erectus, já andavam por aí.)
É que o objetivo central não é desvendar algo sobre o passado profundo da Terra, e sim entender como seriam os fósseis do Planeta Vermelho caso eles existam – e quais transformações químicas aconteceram ao longo da fossilização. Não dá para encontrar algo nas amostras marcianas se não soubermos o que procurar. Para analisar a composição química de um pedacinho de rocha, Lara usa técnicas como a espectroscopia por fluorescência de raios X. Vamos entendê-la.
Raios X são luz. Não podemos vê-los porque nossos olhos evoluíram para enxergar (e nosso cérebro para interpretar como cor) apenas as luzes localizadas dentro de uma faixa de energia muito específica. Os raios X estão acima dessa faixa.
A luz é formada por partículas chamadas fótons. Quando um feixe de raios X é apontado para uma amostra, os fótons invocados se chocam com os átomos que formam a amostra. A mais levinha das partículas que compõem o átomo atingido, o elétron, aproveita essa energia para pular fora.
Um átomo contém vários elétrons, que se organizam em diferentes estados quânticos, cada um com uma energia característica. Não se preocupe com o que é um estado quântico. O que interessa é que, quando um elétron pula fora, outro precisa ocupar aquele estado quântico que ficou vago. Para isso, ele precisa perder energia. Ao perdê-la, essa energia será eliminada para o ambiente, adivinhe só, na forma de outros raios X. E a energia dos raios X emitidos pelos elétrons de cada átomo indica a qual elemento químico ele pertence: zinco, ferro, manganês?
Esse é um dos métodos que Lara e outros cientistas usam para descobrir a composição química de uma amostra (sem destruí-la, diga-se, algo especialmente importante no caso de uma rocha marciana). A fluorescência de raios X não detecta os átomos leves que compõem o grosso dos seres vivos, como carbono, hidrogênio, nitrogênio etc. Mas a proporção entre metais, que são mais pesados, já diz muito sobre a história daquele pedacinho de rocha.
‘Vamos supor que a amostra, para ser gerada por um ser vivo, precise ter mais ferro do que zinco, e mais zinco do que manganês’, explica Lara. ‘Se a gente vê um montão de manganês, sabe que ele não se originou do metabolismo da bactéria.’ Não existe uma impressão digital de elementos químicos que diga com certeza se houve uma bactéria ali: cada análise é uma análise.
Existem máquinas de fluorescência de raios X que cabem em um laboratório comum. Mas uma abordagem promissora é usar a mesma técnica nas fábricas de luz mais potentes do mundo: aceleradores de elétrons gigantescos chamados síncrotrons.
Made in Brazil
O Sirius, localizado nos arredores de Campinas (SP), é um edifício com o formato e as dimensões de uma arena de basquete. Visto do céu, é uma enorme rosquinha metálica. Seu formato redondo está diretamente relacionado à sua função: ele é um autorama de elétrons. Em seu interior, corre um anel com 518 m de circunferência, no qual essas partículas dão 580 mil voltas por segundo quase à velocidade da luz (300 mil km/s).
Os elétrons, o nome já diz, têm carga elétrica, o que significa que sua trajetória muda quando eles estão na presença de campos magnéticos. É por isso que no Sirius, e em outros aceleradores do tipo síncrotron, o que força os elétrons a manter a trajetória circular é um conjunto de ímãs homéricos. A atuação desses ímãs tem um efeito colateral, e esse efeito é o objetivo central da máquina.
Se você pegar uma toalha molhada, segurá-la por uma ponta e girá-la no ar, a água em excesso espirra em todas as direções. No síncrotron, acontece algo parecido: nos pontos em que os elétrons são forçados pelos ímãs a mudar de direção, eles emitem luz. Fótons. Esses fótons são canalizados em dezenas de estações de pesquisa ao longo da circunferência.
O astrobiólogo Douglas Galante, do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM, a instituição subordinada ao MCTI que opera o Sirius), usa uma das estações de pesquisa do Sirius, chamada Carnaúba, para aperfeiçoar métodos como a fluorescência de raios X.
Uma linha de pesquisa interessante é a tafonomia experimental: pesquisadores como a paleontóloga Miriam Pacheco, da Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR), geram fósseis de bactéria em laboratório, em condições simuladas, para acompanhar a química da fossilização – e depois analisá-la no acelerador.
A estação Carnaúba, adjacente à pista na qual os elétrons giram, não faz só fluorescência. A interação dos raios X com a amostra pode ser aproveitada por vários detectores, cada um com uma função. Acima, você vê uma ilustração do Tarumã, um conjunto de detectores que atuam na Carnaúba. Essas engenhocas parecem pistolas laser de Star Wars e ficam todas apontadas para a minúscula amostra no centro. Só duas delas são usadas para fluorescência.
Outras têm funções diferentes – como usar o feixe de raios X para gerar imagens 3D que representam com precisão a forma desses fósseis. Essa é uma técnica recente, possível apenas nos síncrotrons, chamada de tomografia computadorizada de raios X pticográficos (PXCT). Funciona seguindo o mesmo princípio de uma tomografia de hospital: nos lugares mais densos, como os ossos, passa menos luz, nos menos densos, como seu fígado, passa mais luz, e assim surge um retrato do interior do corpo.
A diferença, no Sirius, é a resolução e o tamanho minúsculo das amostras. Além do contraste: tomografias comuns distinguem apenas áreas com densisades radicalmente diferentes – o síncroton permite distinguir trechos bem mais similares da amostra observada, que pareceriam a mesma coisa em uma tomografia comum.
Retrato falado
No começo de 2020, Lara divulgou alguns dos resultados mais importantes de seu doutorado, que ela terminou em 2019 orientada pelo Douglas: ela usou PXCT para gerar imagens 3D de alguns fósseis de bactéria pouco preservados de Gunflint – aqueles do Canadá – com a resolução mais alta já obtida. Ela também mediu a densidade de cada pedacinho do fóssil. Como cada substância tem uma densidade característica, esse é outro meio, diferente da fluorescência, para descobrir a composição química.
Você acompanha o processo no gráfico abaixo. O primeiro passo foi cortar as rochas em fatias finas, translúcidas, e observá-las sob um microscópio óptico comum, com uma ampliação de mil vezes, para encontrar filamentos, bolinhas e outras marcas candidatas a serem fósseis de bactéria. Depois, Lara e seus colegas extraíram essas marquinhas promissoras da fatia de rocha cortando fora cilindros minúsculos, dez vezes mais finos que um fio de cabelo (os chamados ‘pilares’).
Esses pilares foram para o síncrotron de terceira geração do Instituto Paul Scherrer, na Suíça (o Sirius é similar, mas mais avançado, de quarta geração). É que Lara estava em um doutorado sanduíche, quando o pesquisador passa um período em uma instituição estrangeira.
Com a PXCT, foi possível ver exatamente qual parte do microfóssil era composta de matéria orgânica, que são os restos mortais das bactérias, e qual parte era feita de um certo óxido de ferro, que tem densidade maior que a parte orgânica. Também foi possível ver que o óxido de ferro dentro do fóssil (maghemita) era diferente do óxido de ferro fora do fóssil (hematita), um sinal de que a presença das bactérias interferiu na química da rocha.
Técnicas menos sofisticadas exigem que você transforme o fóssil em pó para analisá-lo. Mas se Lara tivesse feito isso, nunca teria percebido que havia óxidos diferentes no fóssil e em volta dele. Esse é o poder de uma técnica não destrutiva como a PXCT. Ela permite verificar a localização exata da anomalia química: ela está mesmo no trecho da rocha que tem o formato da bactéria?
O problema das rochas marcianas é que não podemos extrair pilares. Sequer podemos passá-las na máquina de frios. De fato, elas provavelmente não vão nem sair dos invólucros que as protegem da contaminação terráquea. Para que pesquisadores como Lara possam analisar essas rochas, eles precisarão aperfeiçoar técnicas ainda menos destrutivas, que pulam as etapas de preparação listadas ali atrás. Com isso, a resolução cai.
Mesmo que as rochas marcianas se provem um alarme falso, e não haja nenhum resquício de vida em suas entranhas, esses esforços não terão sido em vão. Afinal, há um outro planeta no Sistema Solar que com certeza contém vida: o nosso. E por bilhões de anos essa vida foi microscópica. Animais e plantas são invenções evolutivas recentes. Máquinas como o Sirius dão zoom nos nossos antepassados mais antigos – e revelam como a Terra, graças às bactérias, foi de um bólido incandescente de magma ao planeta mais especial que conhecemos.
O post Como é a busca por fósseis de bactéria na Terra e em Marte apareceu primeiro em CNPEM.